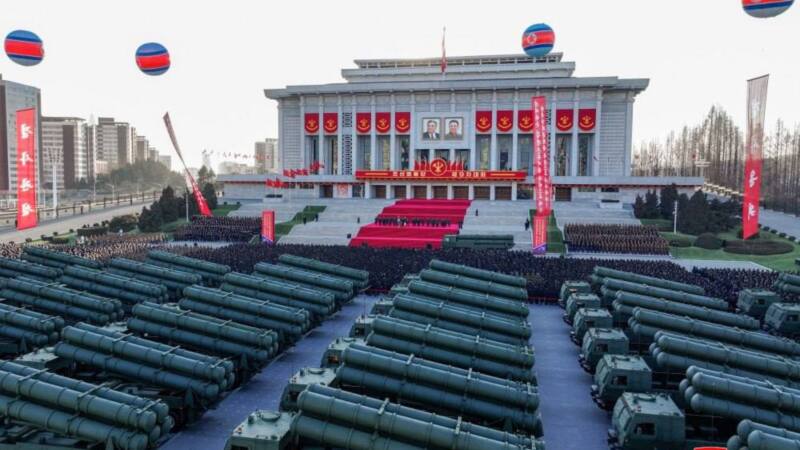Há momentos na história política em que a encenação se confunde perigosamente com a realidade. A reunião de hoje do "Conselho da Paz. promovida por Trump e realizada em Washington, é um desses momentos: uma coreografia cuidadosamente montada para sugerir autoridade global onde, na verdade, existe apenas vontade pessoal.
Convém começar pelo essencial. Este “Conselho” não é um órgão internacional reconhecido, não possui mandato jurídico, não tem qualquer poder sobre a ONU nem sobre tratados multilaterais. Não decide guerras, não arbitra conflitos, não representa a comunidade internacional. É, antes de tudo, um instrumento político e simbólico que Trump tenta alimentar com a sua retórica.
Também a sua composição revela limites claros. Entre os participantes estão países como Albânia, Argentina, Egito, Indonésia, Israel, Arábia Saudita e Vietname, além de algumas presenças de menor peso estratégico. Mesmo somando observadores europeus ocasionais, trata-se apenas de uma pequena fração das nações do mundo. Estão ausentes as grandes potências eurasiáticas, não há representação efetiva das principais economias europeias como bloco político soberano, e falta qualquer legitimidade verdadeiramente universal.
Ainda assim, a narrativa construída procura outra coisa: a imagem de Trump como “pacificador global”. É uma figura paradoxal. O mesmo líder que afirma terminar guerras é também aquele que ameaça novos conflitos - incluindo a possibilidade declarada de um ataque ao Irão - dentro de 10 dias - caso este não ceda às suas exigências. A paz, neste discurso, deixa de ser negociação entre iguais e passa a significar submissão ao poder.
Este é o velho princípio do “quero, posso e mando”, agora projetado à escala internacional. Uma visão do mundo onde instituições multilaterais são obstáculos, o direito internacional é secundário e a força substitui o consenso. Não é uma novidade histórica, mas é sempre um sinal de regressão política.
O perigo maior talvez não esteja no conselho em si - estruturalmente frágil e juridicamente irrelevante - mas na normalização da ideia de que a ordem global pode ser redefinida pela vontade de um só homem. Quando a teatralidade política substitui a diplomacia, o risco deixa de ser simbólico.
Por isso, a resposta do mundo politico não deveria ser o silêncio nem a complacência. A defesa das instituições internacionais, do direito coletivo e do equilíbrio entre nações exige algo simples e difícil ao mesmo tempo: limites. Limites claros ao poder pessoal, à retórica de força e à tentação de transformar a paz em instrumento de coerção.
Colocar Trump “no seu lugar” não é uma questão de rivalidade política; é uma questão de preservar regras comuns sem as quais nenhuma paz é duradoura. Porque a verdadeira paz nunca nasce do mando - nasce do reconhecimento mútuo entre iguais.
Autor: João Gomes in Facebook